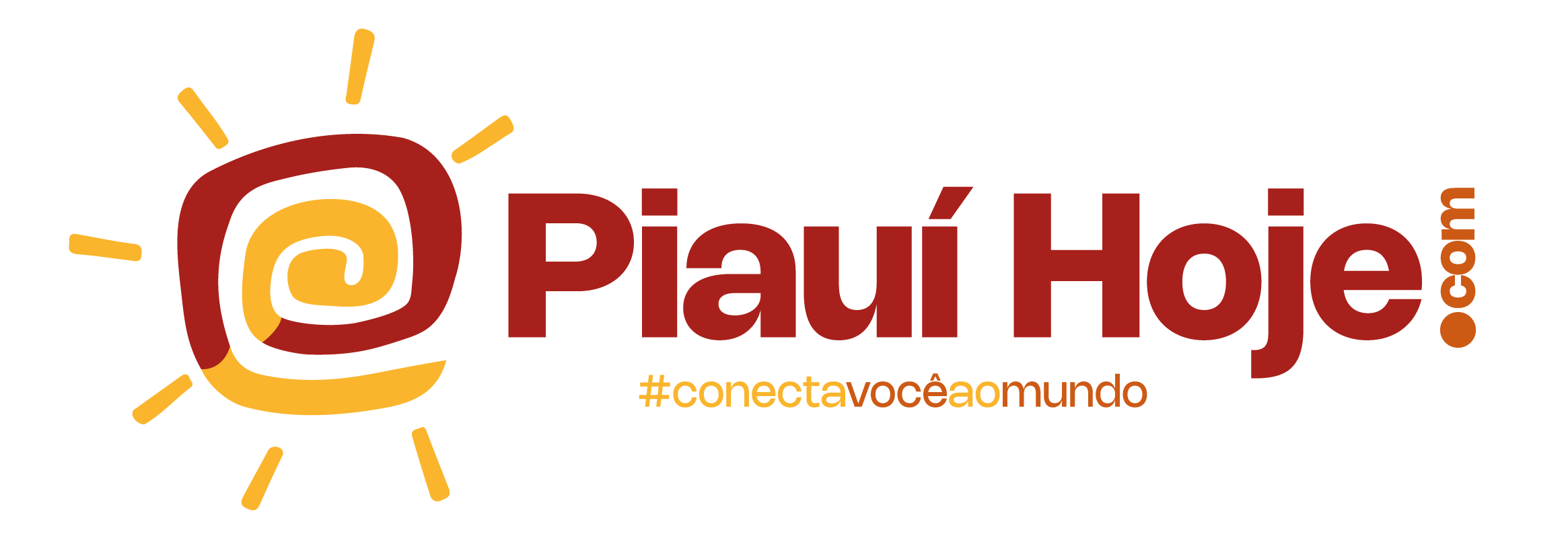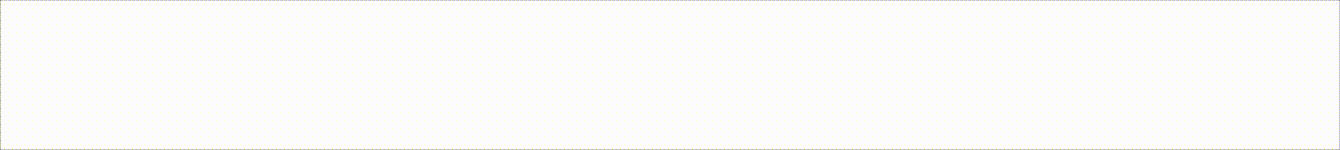A pergunta, agora, é: ainda tem espaço/sentido para um Projeto Nacional nesse processo de globalização alimentado pela Revolução da Informática? Acredito que sim.
Povos, grandes civilizações e alguns estados imperiais têm alguns milhares de anos. Os estados nacionais não têm 1000 anos; existirão daqui a 1000 anos? Ninguém sabe.
Mas, na verdade, ante a globalização, os estados-nação têm mostrado uma grande resiliência (definida nos dicionários do Google como “capacidade de resistir ao choque e à adversidade, redefinindo sua forma original”).
Essa resiliência se explica porque o estado-nação se mostrou uma forma de “comunidade” capaz de articular não só a dimensão política da convivência humana, mas também as dimensões econômicas, sociais e culturais.
Se a globalização continuar hegemonizada pelo neoliberalismo economicista, se tornará cada vez mais selvagem. Só a participação dos estados-nação pode promover a necessária articulação supranacional do econômico com o social, o político e o cultural. O caminho é o multilateralismo, entendido como a valorização de espaços multinacionais de interlocução e o não-alinhamento ideológico-cultural. Em tese, essa é a posição oficial do Brasill. É a participação “ativa e altiva” no mundo global, como propõe o ex-ministro Celso Amorim. Lula é um entusiasta da ideia.
Os estados modernos nasceram na Europa, com a centralização política, após o feudalismo. A ideia-força inicial era de “soberania”, como o “poder maior” acima dos diversos “poderes internos” – por isso a soberania era sobretudo territorial; mas também em relação aos demais estados e à Igreja Católica.
Com a continuidade de guerras entre nações europeias, o Tratado de Vestfália (1648), é considerado um marco das Relações Internacionais, pautadas pelo respeito à soberania. Surge a diplomacia como “relações exteriores permanentes”.
A Revolução Francesa (1789) e a Independência dos Estados Unidos (1776) trouxeram novos elementos para a concepção do estado nacional. A Nação é vista agora como uma “comunidade de cidadãos”; soberania nacional e soberania popular se tornam equivalentes.
A partir desses eventos, o estado-nação se tornou um modelo universal. No início do século XIX, o ciclo de independências na América Central e do Sul – do Brasil também, com a especificidade de se tornar um Império – se orientaram pelo “modelo”.
O segundo ciclo de independência nacional veio com a descolonização no pós- Segunda Guerra Mundial. O estado-nação continuou o modelo: soberania nacional passou a ser também autodeterminação dos povos.
A identidade cultural (língua, religião, história, artes, etc.) serviu de base e foi conscientemente utilizada para fortalecer as Nações como “estados nacionais” (diferente dos estados imperiais). Não foi um processo pacífico. Até a Batalha piauiense do Jenipapo entra nesta história.
Nossa Constituição Federal de 1988 assume essa concepção: o princípio da soberania popular - “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente” (parágrafo único do art. 1º); e os “princípios que regem as relações internacionais”: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de asilo político (artigo 4º).
A necessidade de uma “ordem mundial supranacional” é anterior à atual fase da globalização; nasceu da preocupação com a Paz entre as nações. Texto pioneiro foi o de Kant, em 1795 - A Paz Perpétua: Um Projeto Filosófico. A proposta de Kant não passou de um “projeto filosófico”; defendia uma Federação de estados livres .
A primeira tentativa de uma organização internacional foi a Liga das Nações, criada em 1919, justamente depois de uma guerra mundial (1914-1918). Teve a adesão de 44 estados. Dissolveu-se em favor da ONU.
A ONU (Organização das Nações Unidas) foi criada em 1945, também após uma guerra mundial (1939-1945). Tem desempenhado um papel importante, mas sua capacidade de evitar guerras regionalizadas sempre foi limitada.
Criou uma estrutura de órgãos setoriais que tem contribuído para a cooperação e promoção de direitos em todo o mundo (UNESCO, OMS, FAO, OIT, etc.). Tem sido importante também sua contribuição na área econômica e social (CEPAL, desde os anos 1950, com a atyação de Raul Prebisch e Celso Furtado e, mais recentemente, o PNUD.
O Brasil tem defendido uma reforma institucional da ONU. Certamente haverá mudanças, mas para ajustamento aos cortes orçamentários pela redução do aporte financeiro norte-americano nesse governo Trump.
A reivindicação do Brasil – sempre cobrada pelo Lula - de se tornar membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, dificilmente se concretizará. Se o Brasil conseguir desempenhar um papel na América do Sul, evitando ou mediando conflitos e garantindo melhor controle do tráfico de drogas e do crime organizado, com certeza se qualificará para o posto.
Antes da intensificação do que se chamou globalização (anos 1970), com a valorização do planejamento, da implementação de políticas de desenvolvimento (países pobres) e de políticas de bem estar-social, os estados-nação se fortaleceram como grandes atores e indutores de uma estratégia nacional para seu futuro.
A chamada intelligentsia, em vários países, inclusive o Brasil, debate sobre cultura e identidade nacional. Fortalece a ideia de Nação não só como “comunidade de origem”, mas também como “comunidade de destino”. Acredito que não seria exagero considerar as Constituições como o “Projeto Instituinte” ou o “Projeto-Pacto” dos Estados-Nação. São as ideias de “imaginário” e de “construção” que inspiram a formulação de um Projeto Nacional. O imaginário dos brasileiros “esquentou” recentemente na torcida pelo Oscar para “Eu Ainda Estou Aqui”.
Com o aumento da produção e da produtividade, também no pós-Segunda Guerra Mundial, começou o processo de formação dos “mercados comuns”. A Europa foi a primeira experiência, procurando ir além: do Mercado Comum (livre circulação de mercadorias e capitais) avançou para a Comunidade (livre circulação de pessoas), e para a União (unidade monetária com banco central e articulação de políticas públicas). Pensava em caminhar para a Federação (unificação político-administrativa).
Obstáculos geopolíticos neutralizaram o processo. A Guerra Fria (EUA x URSS) levou à criação da OTAN, com a “tutela” dos Estados Unidos. Apenas agora que a Europa está redefinindo sua própria política de defesa continental (efeito Trump). Depois da dissolução da União Soviética aumentou para 27 o número de membros a União Europeia, agora mais heterogênea.
Não deixou de ter grande influência no bloqueio à experiência de “federações supranacionais” a atuação das multinacionais com sua ideologia neoliberal. Não querem um Organismos Supranacionais que regulem a economia, desenvolvam políticas públicas, planejem. Multinacionais, transnacionais e globais só as empresas – reza o neoliberalismo. Essa disputa ideológica é forte e diária no Brasil atual.
A proposta da UNASUL (União Sul Americana) se inspirou na União Europeia: ampliar o Mercosul para todos os países da América do Sul e avançar para mais integração: Mercado Comum - Comunidade - União). Aliás, nós escrevemos na Constituição Cidadã de 1988: “o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações” (parágrafo único do artigo 4º).
O processo tem sido cheio de altos e baixos, com entrada e saída de países. O próprio Brasil saiu no Governo Bolsonaro e retornou em abril de 2023 no Governo Lula. Mas, na véspera da primeira reunião da retomada, o governo brasileiro não avaliou bem a situação e promoveu uma “visita de estado” do presidente da Venezuela, uma figura polêmica entre seus pares. Vai demorar um tempo para criar novo clima favorável.
É bom que o Brasil tenha “voltado” ao cenário internacional depois da política externa “antiglobalista” do governo anterior. Devemos ter relações diplomáticas e comerciais e de cooperação, se possível, com todos os países. Devem continuar na pauta a relação Sul-Sul, com os países de língua portuguesa, com a OCDE, a relação Mercosul-União Europeia, etc. O Brasil tem quadros para promover essa diversidade multilateral. Mas, defendo que prioridades: a UNASUL e os BRICS.
Em 2010, foi criada a CELAC (Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos), abrigando 33 países; se diferencia da OEA na exclusão dos Estados Unidos e Canadá. Termina se criando uma superposição de organismos regionais, com pouca institucionalização, e sua ação se reduz a reuniões de Cúpula e formação de GTs.
Em 1999, veio o G7, com 1) Alemanha, 2) Canadá, 3) Estados Unidos, 4) França, 5) Itália, 6) Japão, 7) Reino Unido; a Rússia (convidada e depois excluída).
Em 2008, foi criado o G-20 tentando compatibilizar a diversidade de interesses das economias desenvolvidas e emergentes, possuindo assim maior representatividade e legitimidade.
No final de 2023, o Brasil assumiu, pela primeira vez, a presidência do G20 e colocou na pauta outras prioridades: governança global, desenvolvimento sustentável e o combate à fome, pobreza e desigualdade. Propôs a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, hoje presidida pelo Ministro Wellington Dias.
Já fui mais entusiasta dos BRICs. Foi além das Cúpulas e criou o Novo Banco de Desenvolvimento (conhecido como Banco dos BRICS, hoje presidido por Dilma Roussef). Fala-se em unidade monetária, além das transações em moedas próprias dos países; é mais difícil de acontecer, pois bate de fren…